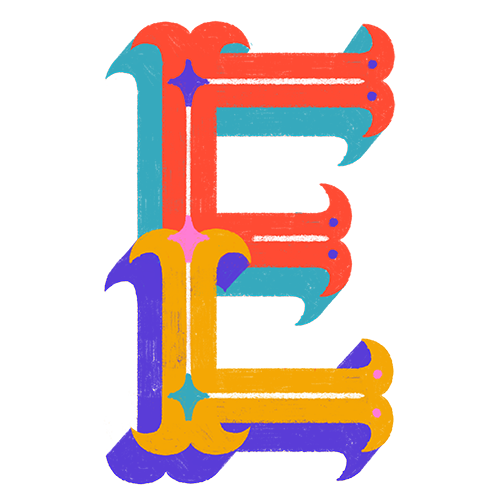
speramos Erika Hilton, ou Erika Santos Silva, por algumas horas no estúdio do fotógrafo Renato Nascimento, no centro de São Paulo. A entrevista estava marcada para o meio-dia, mas o encanamento do apartamento em que Erika mora entupiu e ela ficou presa na função até às 13h. Tudo bem. Almoçamos, buscamos café e testamos a luz para a sessão de fotos. Erika chegou por volta das 15h, angustiada pelo atraso. Entre saudações efusivas, um cigarro, um papo sobre a prótese mamária recém-colocada, café e um pedaço de brownie, começamos por um “Quem é você?” básico. E ela se colocou entre a militância, a intelectualidade e a representatividade, com um destaque ligeiro mas não menos importante para o que define como uma confusão astrológica: “Sou sagitariana, tenho ascendente em aquário e lua em gêmeos”.
Mas, acima de tudo, a ex-co-deputada pela Mandata Ativista (PSOL) – formada como Bancada Ativista, em 2016 – e hoje candidata a vereadora pelo mesmo partido se define como uma sobrevivente: “A morte se apresentou pra mim de várias maneiras; estando em lugares que foram invadidos ou em esquinas onde outras companheiras morreram. Enfim, eu tenho 27 anos e vi muita gente morrer. Então, eu sou uma sobrevivente”.
Com raízes na Bahia, a família toda de Erika é de Francisco Morato, na região metropolitana de São Paulo. Filha única até os oito anos de idade, ela conta ter sido uma criança livre, feliz e até privilegiada, rodeada pela mãe, tias e avó, todas empregadas domésticas, todas “muito pra frente”, como ela mesma diz. Dentro de casa, nunca foi um problema que Erika, nascida como o que a sociedade entende ser um menino, se divertisse sobre sapatos de salto alto, de toalha enrolada na cabeça, imitando a performática diva mexicana Paola Bracho, da novela A Usurpadora. “Minha mãe me criou em uma redoma. Ela sempre soube que existia uma coisa em mim ‘diferente’ das outras crianças. Eu era uma criança trans ensinada dentro dessa noção binária, uma menina que agia como menina e era tratada como menina. E isso nunca foi um problema. Minha avó, meus tios e tias sempre viram… e isso era extremamente normal. Elas só não me deixavam ir pra rua, pra evitar que eu fosse hostilizada pelas pessoas.”
“Minha mãe me criou em uma redoma. Ela sempre soube que existia uma coisa em mim ‘diferente’ das outras crianças. Eu era uma criança trans ensinada dentro dessa noção binária, uma menina que agia como menina e era tratada como menina”

Infelizmente, esse ambiente de tolerância não durou para sempre. Ele começou a ruir sob o peso da religião, quando Erika entrava na pré-adolescência. Apesar do câmbio ao seu redor, ela se concentrava na própria sexualidade: “Eu não tinha toda a narrativa que as adolescentes e crianças LGBTs têm hoje, de saber que existem pessoas trans e travestis. Apesar de só ter 27 anos, a referência travesti que eu tinha era a da Roberta Close, sendo caricata na banheira do Gugu, ou as transformistas, como eram chamadas as travestis que participavam do programa do Silvio Santos.” Sem ter em quem se espelhar, a solução que Erika encontrou foi assumir-se gay para a mãe, cada vez mais evangélica.
A surpreendente solução de sua mãe foi enviar a filha para viver em Itu, sob os cuidados de parentes, todos fiéis fervorosos da Congregação Cristã no Brasil. Sob pressão, Erika tentou “se corrigir”: “Aconteceu uma lavagem cerebral. Eu era obrigada a ir para a igreja. Não só ir, mas também repetir em casa tudo que eu ouvia lá. Logo depois, minha mãe foi pra Itu, eu me batizei na Congregação e aconteceu um processo de expurgo. Eu virei uma grande profeta, ia orar na casa das irmãs, falava em línguas, orava nas pessoas, pregava e andava de terno e gravata. Isso durou quase dois anos.”










