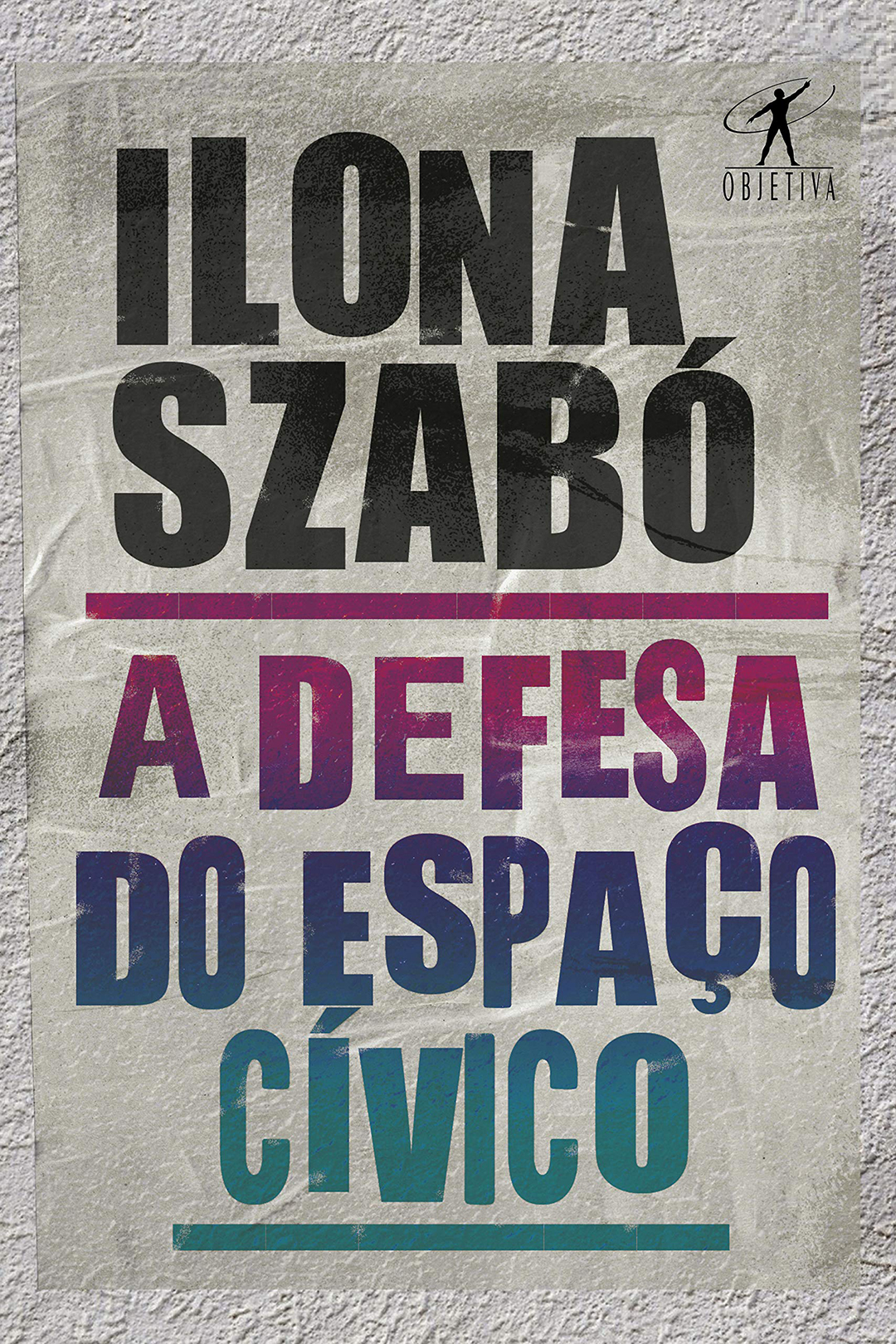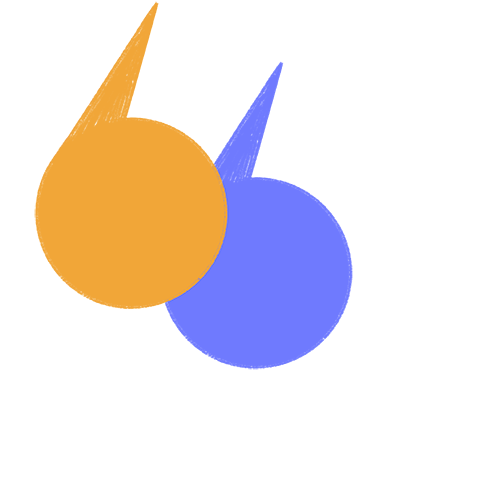
Fiquei um tempo calada, mas agora não é hora de se calar”, diz Ilona Szabó de Carvalho, a cientista política que, apesar de ser um dos nomes mais importantes do país em temas cabeludos como segurança pública e política antidrogas, ficou nacionalmente conhecida ao se tornar persona non grata do presidente Jair Messias Bolsonaro.
Nomeada, em fevereiro de 2019, como membro suplente do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária por Sérgio Moro, então ministro da Justiça e Segurança Pública, Ilona, cujas opiniões são abertamente contrárias às do governo, sofreu rapidamente os efeitos da ira do presidente. A nomeação foi duramente criticada nas redes sociais por apoiadores do governo, Bolsonaro pressionou Moro para recuar na nomeação e a cientista foi exonerada. Logo em seguida, em maio, ao se posicionar contra os decretos de armas do presidente, ela sofreu novos ataques. Em abril deste ano, durante a coletiva sobre a saída de Moro, Bolsonoro voltou a falar de Ilona, afirmando que ela tinha publicações a favor do aborto e ideologia de gênero – dois temas que, vale dizer, não estão na agenda da cientista, que é, entre outras coisas, co-fundadora e diretora-executiva do Instituto Igarapé, think and do tank independente e apartidário fundado em 2011 no Rio de Janeiro, que busca propor soluções, por meio de pesquisas, novas tecnologias e influência em políticas públicas para os desafios de segurança, clima e desenvolvimento.
Ali nos primeiros meses do governo Bolsonaro, Ilona virou alvo de apoiadores do governo e grupos de extrema direita. As ameaças e mensagens de ódio ficaram tão intensas que a especialista, que tinha recebido um convite para uma bolsa para a Universidade de Columbia, em Nova York, decidiu deixar o país. Hoje, vivendo no Canadá com a família, ela segue com seus projetos – entre eles, o livro A Defesa do Espaço Cívico (Ed. Objetiva), lançado neste 26 de outubro em versões física e digital. Na obra, Ilona explica como o governo brasileiro vem restringindo nosso acesso ao espaço cívico e cerceando – não de forma silenciosa – a democracia. A especialista mostra, no texto, as estratégias que governos populistas-autoritários usam para destruir o espaço cívico e propõe soluções, listando maneiras de como a sociedade civil pode se organizar para conter esse avanço.
“Ninguém pode se sentir confortável não fazendo nada. Todo mundo que tem o privilégio da educação pode mobilizar outras pessoas. Faça o mínimo, mas faça. Então, o livro é um chamado para a ação cívica e para essa defesa da democracia. É uma convocatória”
Ela conta que o livro veio de um desejo muito pessoal de voltar para o debate. “Demora um tempo para a gente ter coragem e falar: ‘bom, vou ser criticada, posso ter problemas, mas não posso me calar’. Nunca vivi em bolha, tenho conexões com as instituições públicas, de segurança, todos os poderes do estado, diferentes classes sociais, e tudo o que eu andei pesquisando me diz que a gente está indo num caminho arriscado no país”, ela diz. Para a especialista, deixamos “passar” a oportunidade de contestar esse governo. “Quando eles começaram a entender que essa ameaça era latente, tão próxima ao presidente à sua família, houve um passo atrás, porém no sentido da retórica, somente para o Congresso e o STF, não para a sociedade civil. Nada mudou, é uma sensação falsa, e perigosa”, explica. “Para mim, foi um dever chamar a atenção das pessoas e dizer: ‘olha, precisamos agir, e agora.’ Ninguém pode se sentir confortável não fazendo nada. Todo mundo que tem o privilégio da educação pode mobilizar outras pessoas. Faça o mínimo, mas faça. Então, o livro é um chamado para a ação cívica e para essa defesa da democracia. É uma convocatória.”

Acho que o episódio que você viveu, desde sua exoneração do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, em fevereiro de 2019, é um bom ponto de partida para essa conversa, se consideramos que sua história é muito forte simbolicamente quando olhamos para o momento que estamos vivendo de ameaça real à democracia.
O ano de 2019 foi bastante complexo. Depois da exoneração, que já tinha sido um pico de exposição, dei uma recuada no debate por motivos pessoais e institucionais, e também para evitar uma politização tão grande do meu trabalho, porque isso inclusive prejudicava nossa atuação com o Igarapé. Mas aí chegou maio com os decretos de armas, era muita coisa, achei que era um motivo mais do que justo para eu voltar para o debate. E fui muito exposta de novo; foram semanas dando entrevistas para vários veículos, saí na capa do Valor com o principal lobista de armas do Brasil, como um contraponto, que é uma pessoa que eu evito debater há mais de uma década, justamente porque sempre escolho debater com quem parte do interesse público e não com quem defende interesse privado. Além disso, nas mídias os debates eram bastante desrespeitosos. Então minha conversa está dentro do campo democrático e do respeito. Mas eis que sou citada de novo pelo presidente. Eu estava voltando de uma reunião, estava literalmente dentro do ônibus do aeroporto, saindo do avião, me liga um jornalista e fala: ‘olha, o presidente te citou novamente, você quer responder?’, e era uma tentativa de desqualificação do meu trabalho, ele disse que nenhuma das minhas propostas davam certo. Respondi num parágrafo muito simples: ‘todas as nossas propostas são baseadas em estudos e evidências, estou à disposição para apresentá-las, mas quem tem a caneta é o presidente. Quem tem que provar o que dá certo ou não é ele, não sou eu’ – e essa foi a resposta que saiu publicamente. Depois disso, os ataques mais velados começaram a acontecer.
Como eram esses ataques?
Muitos não tenho como provar a origem, então não posso atribui-los a ninguém especificamente, mas foi o momento em que a gente falou: ‘pode ser que a gente esteja sendo grampeado, monitorado’, começaram a chegar recados, que diziam literalmente assim: ‘cuidado, se você seguir nesse enfrentamento coisas mais sérias podem acontecer’, recebia no e-mail pessoal e no institucional fotos de cadáveres, mensagens de ódio, eram ameaças mesmo. Além dos ataques públicos e a difamação online que eu já tinha sofrido. Quando o presidente te nomeia, você vira uma persona non grata para muita gente, sofre uma crise reputacional muito forte. Mesmo pessoas que concordam com você se afastam, porque precisam ter relações com o governo. E era uma coisa muito recente ainda, meu caso aconteceu dois meses do início do governo, muita gente ainda não tinha se dado conta de que seria o padrão. Depois ficou claro o quão grave era a intolerância, a não abertura para o diálogo, mas naquele momento não tinha isso. Então foi muito ruim. Essas ameaças começaram a me deixar bastante preocupada, comecei a pensar: ‘será que estou segura? Será que minha filha está segura? Dá para ela continuar indo para a escola a pé?’ E fui a advogados, mas era tudo anônimo, não conseguíamos rastrear os IPs, então não tinha o que fazer. E então em maio decidi sair do país, tinha recebido um convite para tentar um fellowship para a Universidade de Columbia, em Nova York, foi providencial. E também foi importante, porque também pude olhar de fora, com a distância, reposicionar a estratégia do instituto.
Esse é o problema central. Só a educação de qualidade, a noção real cidadania, o respeito, a tolerância e a igualdade de direitos e perante a lei vai fazer isso mudar. Vai dar trabalho mas não tem atalho. Temos que lutar todos os dias. https://t.co/qcIRpixL1Y
— Ilona Szabó 🇧🇷 (@IlonaSzaboC) October 17, 2020
Você foi para Nova York, mas agora está no Canadá. Como foi essa mudança?
Meu fellowship ia até junho deste ano, mas aí veio o coronavírus. As fronteiras começaram a fechar e meu marido, que é canadense, disse: ‘Ilona, a gente precisa sair daqui, Nova York é o epicentro’, e foi uma decisão que tomamos literalmente de um dia para o outro, porque não poderíamos entrar no Canadá depois.
Você pensou em voltar para o Brasil?
O Brasil, para mim, não era uma opção – e ainda não é. Não apenas porque se eu sair do Canadá, hoje, não consigo voltar – então foi uma escolha familiar –, mas pela mobilidade. Uma vez que você passa por esse tipo de ameaça, é difícil continuar fazendo o trabalho sem essa pressão psicológica. Porque sempre trabalhei com temas muito complicados, eram relações muito delicadas, trabalhei com as polícias, com o exército, mas era outra coisa. Não significa que concordávamos em tudo ou que as conversas não eram difíceis, mas eram todas dentro de um espaço de respeito. De repente, com a chegada desse novo grupo político, muito mais extremista e intolerante, o que aconteceu é que a análise de risco do meu trabalho ficou muito prejudicada. Não dava mais pra saber qual era o risco real, tanto para mim quanto para minha equipe, que é majoritariamente feminina – no Igarapé, mais de 80% dos cargos são ocupados por mulheres. E, se de um lado é uma organização imensamente tolerante e cooperativa, do outro, a gente é um alvo muito fácil para os ataques misóginos, desqualificadores. Então, para continuarmos fazendo nosso trabalho, permanecer no debate, era preciso garantir nossa segurança e nossa liberdade.

Qual o preço da liberdade nesse contexto que vivemos hoje?
Sempre fiz meu trabalho dentro de uma perspectiva que eu sabia que não iria agradar a todos, então nunca deixei de dizer o que eu tinha a dizer. Comecei a trabalhar com esse tema voluntariamente em 2002, no ano seguinte fui para o VivaRio, que era uma organização muito grande, que atuava em todos os temas. Desde então, nunca me senti ameaçada. Mesmo morando no Rio de Janeiro, nunca pensei que alguém faria alguma coisa contra mim, porque tinha uma institucionalidade, eu tinha relações de trabalho e de troca com as secretarias de segurança pública, com os comandos das polícias, com o Ministério da Justiça, com o Ministério da Defesa, com o Itamaraty, muitas vezes com o escritório da Casa Civil, da presidência da República, e minha organização nunca recebeu recurso público, porque eu queria ser independente, mas sempre houve um respeito aos papéis. A sociedade tem um papel, o governo tem um papel, eles entendiam que o nosso papel era também monitorar e pedir transparência nas políticas públicas, participar de discussões, levar informação, poder criticar de forma respeitosa, construtiva, então essa ameaça não fazia parte da nossa preocupação.
E quando a coisa começou a mudar?
Já no aquecer das eleições, começou algo diferente. A gente começou a ver, no próprio Rio de Janeiro, uma quebra de institucionalidade, onde pessoas com cargos importantes começavam a te atacar publicamente, coisas que eu nunca tinha visto. Isso começa em 2017, se acirra muito em 2018 e em 2019 é a ruptura. Vocês não são mais bem-vindos à mesa. 2018 já foi um ano muito tenso para o nosso trabalho, no sentido de ‘caramba, a gente está sendo atacado.’ Pessoas que têm um papel institucional, ligado a organizações, instituições, começaram a ter uma voz política, claramente defendendo o “novo” grupo político partidário, e estavam querendo chegar ao poder. Isso estava muito claro para mim.
“O Brasil, para mim, não era uma opção – e ainda não é. Não apenas porque se eu sair do Canadá, hoje, não consigo voltar – então foi uma escolha familiar –, mas pela mobilidade. Uma vez que você passa por esse tipo de ameaça, é difícil continuar fazendo o trabalho sem essa pressão psicológica”
Tenho vários episódios, inclusive no livro conto alguns, de por que, por exemplo, não dei queixa sobre as ameaças que recebi, por que consultei policiais, perguntando se eu deveria prestar queixa sobre as ameaças que recebi por e-mail. E as respostam eram: ‘Ilona, se você fizer isso hoje, amanhã vai estar em todos os jornais. Seu caso vai ser publicizado.’ E mais uma vez a gente seria exposto negativamente. Minha instituição pagou um preço muito alto pelo que tinha acontecido em fevereiro. E eu estaria nos expondo novamente. Decidi não fazer a ocorrência e, como eu estava indo para fora, achei que seria uma questão de tempo até as coisas acalmarem. Mas aí comecei a ter custo de monitoramento, tive que fazer uma série de mudanças para a minha equipe ficar segura, a gente saiu de uma casa, foi para um prédio, colocamos biometria, um sistema de comunicação criptografado, um monte de coisas. Conversamos com alguns apoiadores e dissemos ‘olha, vamos ter que gastar dinheiro’, coisas impensáveis, pensáveis em ditaduras, porque a gente acompanha o que acontece com colegas de países que estavam se tornando autoritários. E a gente começou a ter que fazer isso. A deterioração do ambiente em que a gente estava acostumado a trabalhar, da institucionalidade, foi muito rápido.

O caso Marielle foi um marco dessa deterioração, não? Da ameaça concretizada à impunidade.
Sim, o caso da Marielle nunca saiu da minha cabeça, ainda mais nessa época. Mas acho importante dizer, fazendo justiça, que tem muita gente séria atuando na segurança pública, e nós temos relações de trabalho de anos com muita gente em quem confio. Dito isso, precisamos olhar para o que estava acontecendo uma vez que vem um novo grupo político. E a gente tem que lembrar que o Rio também tinha um governador eleito na esteira do presidente. Depois eles brigaram, enfim, mas ele foi eleito por conta da mesma estrutura que elegeu o presidente. E, no nosso trabalho, a gente também acompanha a investigação policial. Então, quando a gente olha para o que está acontecendo em relação às interferências nas estruturas de controle, nas organizações, inclusive na Polícia Federal – a própria saída do ministro Moro foi, digamos, um divisor de águas –, e vai ligando os pontos, a gente pensa: ‘mesmo as estruturas onde a gente ainda tinha os checks and balances, os pesos e contrapesos, estão sendo mudadas.’ E especialmente agora a gente está vivendo um período em que existe uma sensação de acomodação. E te digo: é uma falsa sensação.
Por causa das eleições, você diz?
Estamos num momento eleitoral, então, para os grupos políticos essa calmaria, no sentido das tensões entre os poderes, é benéfica. Porém, o desmonte das instituições, a subversão do mandato delas, as nomeações, os ataques à sociedade, à imprensa, as barbaridades que foram começadas ou revogadas por decretos, nada disso mudou. Então eu digo: não é momento de calmaria, não é momento de acomodação. Existe a tentativa de se colocar que é algo perto do normal, e é um momento muito perigoso. Porque é um momento onde baixam-se as guardas – ‘Ufa, ele parou de atacar o Supremo Tribunal Federal. Olha, está funcionando o equilíbrio entre Executivo, Legislativo e Judiciário, houve um entendimento político, o país vai andar. Maravilha, o Congresso não está mais em risco.’ Mas por que não está em risco? Ao meu ver, pelos motivos errados. Porque ele está fazendo acordos com a parte mais fisiológica e danosa da política brasileira. Veja os casos de corrupção, agora o dinheiro na cueca [referindo-se ao episódio envolvendo o vice-líder do governo no Senado, Chico Rodrigues (DEM-RR)]. Então, por mais que a tensão entre os poderes tenha diminuído, eu não diria que diminuiu pelos motivos corretos. Tudo o que aconteceu continua acontecendo, e é um momento ainda de atenção, a gente precisa ter muito mais atenção. Porque os acordos continuam sendo feitos, os desmontes, os ataques, nada mudou. Então passa uma sensação errada. De que tá tudo bem.
E o que está por trás disso?
Quando a gente olha só por essa ótica, sem entender os motivos reais dessa calmaria, estamos deixando de olhar para o que chamo de espaço cívico. A gente não está se perguntando: “Mudou alguma coisa nessa relação?” Quando falamos de política, não podemos esquecer dos outros atores. A sociedade é o ator que deveria, de fato, estar no centro desse jogo político democrático, que é onde a gente faz o debate público. Mas debate público entre o Executivo e a sociedade está interditado. Porque ele é feito no ataque e contra-ataque, não há diálogo, a gente não senta com os representantes do Executivo Federal para discutir políticas públicas, propostas, ações, consequências. Eu sentei com todos os ministros da Justiça quando comecei a trabalhar nos sistemas, tínhamos ali apresentação, troca, era possível opinar, avaliar os planos juntos – eu e muitas outras instituições da sociedade civil. Isso não ocorre mais. Ocorre só com quem tira o chapéu ali e faz tudo de acordo com o que querem ouvir.
Mas, no que diz respeito à sociedade civil, a sensação é de que há uma certa dormência mesmo, isso porque temos um histórico importante de mobilização pública. Mas, hoje, quando falamos em manifestações cívicas, se nos compararmos a nossos vizinhos latino-americanos, parece que ainda estamos engatinhando. Como podemos nos organizar para promover ações coletivas mais contundentes?
Se você pensar em sociedade brasileira, o que foram as Diretas Já? Primeiro, começou um movimento da elite intelectual contra a ditadura, que se articulou muito bem, e aí mobilizou outros grupos, estudantes foram às ruas etc. Então, eu diria que a sociedade já teve um papel muito chave na construção da democracia do nosso país. O que acontece depois? Já pensando nessa transição democrática, tivemos momentos muito importante da nossa história, como a campanha da fome do Betinho, a chacina da Candelária… foram momentos em que o país inteiro se uniu. Nós já conseguimos mobilizar muitas vezes a sociedade civil. Mas a gente deu a democracia como certa. A minha geração não é a das Diretas Já, mas cresceu na transição democrática. Para mim, a marcha democrática era inevitável. Seguimos lutando, ainda precisávamos conquistar muita coisa, mas a gente sentia que estava no caminho. Os meus temas sempre tiveram intersecção com os lugares onde o estado democrático de direito não estava consolidado. A violência policial, o alto número de homicídios, a marginalização das periferias, a violência contra os jovens negros, pra mim, eram as batalhas para consolidar.
“Nós já conseguimos mobilizar muitas vezes a sociedade civil. Mas a gente deu a democracia como certa. A minha geração não é a das Diretas Já, mas cresceu na transição democrática. Para mim, a marcha democrática era inevitável”
Muito claramente tivemos avanços gigantescos na educação, na saúde, mas na segurança pública essa transição democrática ainda não tinha acontecido. A gente tem políticas e um aparato de segurança que ainda opera na lógica do inimigo, e sempre chamamos atenção para isso. Porém, até por conta de um trauma da ditadura, muita gente não queria falar de segurança. Então ó, a principal ameaça à nossa democracia vai começar por aqui. Seja pelo discurso, seja pela prática. Adoraria que a gente tivesse conseguido chegar mais longe com essa mensagem em tempo útil. Por outro lado, agora que estamos enfrentando demonstrações antidemocráticas, estamos sendo mais ouvidos.
Nesse sentido, como cada um pode fazer sua parte? As redes sociais mais ajudam ou atrapalham?
São importantes, o engajamento digital é importante. Eu falo no livro que existem formas diferentes de a gente atuar. A primeira é: se você é um cidadão digital, como é toda a nova geração, faça aí o seu dever de casa, que é entender se você está sendo responsável. Enfim, tem todo um manual de engajamento responsável nas redes. Dou esse passo a passo no livro: se informe melhor, busque fontes confiáveis, conteúdo que seja verificado, e não conteúdo falso, não engaje no debate violento, quanto mais você expõe um conteúdo bizarro maior é o alcance dele etc. Isso é fundamental porque as redes sociais também foram subvertidas. Quem sugere ou aceita trabalhar de uma forma não ética tem ferramentas que manipulam e usam as redes sociais pra ir contra a democracia. E aí quem antes era o mobilizador, começa a ser demonizado. Qual a resposta para isso? Não tem fuga, é mais política, mais política partidária, nós precisamos voltar a nos engajar civicamente e nos organizar. Online e offline também.
Então, além da responsabilidade digital, como se engajar civicamente?
Se você quer ir além do engajamento digital e ajudar a monitorar políticas públicas, participar também dessa construção, há muita coisa a fazer. Busque organizações que são referência nesse monitoramento, aprenda quais são as ferramentas dos cidadãos, junte-se a um grupo – ninguém faz nada sozinho – ou então crie o seu. Você pode se engajar num partido político e ajudar a melhorá-lo. Se não quiser trabalhar com partidos nem com o governo, há um campo gigantesco na sociedade civil e nas corporações. Você pode contribuir com as políticas públicas por meio de ONGs, think tanks, áreas chaves dentro de empresas e bancos, sustentabilidade, investimento corporativo, empresas de impacto social, o que não dá é não fazer nada. Tem desde o basicão das redes sociais até mil outras formas de você transformar sua vida e sua atuação dentro do seu potencial, do que você acredita e do tempo que quer dedicar a isso, seja profissionalmente, seja como atividade paralela. Mas faça alguma coisa. Esse engajamento é a única chance que a gente tem de frear a escalada desse movimento autoritário, de realmente defender e melhorar a nossa democracia, poder consolidar o que ainda faltava e evitar tanto retrocesso. Tem que entrar na discussão política de forma responsável e correta.
Profissionais da área de segurança não necessariamente entendem de políticas de segurança pública como um todo, sobretudo quando estamos falando de políticas municipais. A responsabilidade de prefeitos e vereadores é prevenir a violência, enfrentando suas causas.
— Ilona Szabó 🇧🇷 (@IlonaSzaboC) October 21, 2020
O que a gente pode entender por espaço cívico?
O espaço cívico é um conceito para explicar a esfera na qual os cidadãos se organizam, debatem e agem. No espaço cívico coabitam diferentes organizações, diferentes interesses, então ali não é um espaço onde todo mundo concorda, mas é um espaço de debate, em que participam sociedade civil, imprensa, universidades. É onde você constrói as formas de influência da sociedade, tanto no debate quanto na política pública. Então a gente está ali pautando, mas também influenciando. Sejam rumos políticos, sociais, econômicos, as estruturas do governo. É de fato o lugar onde a gente pode, como cidadão, se engajar, debater e influenciar os rumos do nosso país.
Comente um pouco sobre os riscos da ameaça ao espaço cívico e à democracia.
O fechamento do espaço cívico vai minando essa capacidade de supervisão, que é uma das formas de cobrar que o governo ande nos trilhos: que seja transparente, que cumpra suas promessas. Então esse fechamento mina a qualidade tanto da transparência da entrega pública, o bem público, quanto das políticas públicas. Soma-se a isso outras crises, como a dos direitos humanos e a do meio ambiente – e aí tem ainda toda uma questão que tem a ver com confiança internacional e a imagem do Brasil lá fora. O terceiro impacto é o que a gente chama da fuga de cérebros: entrevistei e continuo conversando com muita gente que está deixando o país seja por liberdade acadêmica, porque tem sido perseguido, seja por segurança. O Jean Willys, por exemplo, ganhou a eleição, renunciou por não se sentir seguro para exercer seu mandato e foi embora do Brasil. Então a gente vive com essa sensação de que não há uma institucionalidade que dê para confiar, que as pessoas ali não vão agir de acordo com o estado democrático de direito.

E isso tem acontecido em todas as esferas, né? Na política, na televisão, nos esportes, na academia…
Sim, quando a gente pensa em pessoas públicas, grandes jornalistas, acadêmicos e cientistas, esportistas, influenciadores, artistas, quantos ataques a gente já teve? A Fernanda Montenegro foi uma delas, mais recentemente a jogadora de vôlei Carol Solberg, o youtuber Felipe Neto, mas quantos outros não foram atacados, tiveram verbas cortadas, e ataques diretos? Líderes cívicos, e de organizações sociais, o Greenpeace sendo atacado, como se fosse o responsável pela mancha de óleo no nordeste, organizações de Alter do Chão acusadas de atear fogo, grupos indígenas sendo culpados pelo desmatamento. Quando a gente olha esse retrato, isso é muito nítido. E o caminho do autoritarismo tem método. Basta comparar o que estamos vivendo com países que também têm líderes autoritários, como Hungria, Filipinas, os próprios EUA, Turquia, Polônia… E a gente detecta um fenômeno que é diferente do passado, o golpe antigamente era feito com tanques nas ruas, hoje essa transição de uma sociedade democrática para uma sociedade mais autoritária acontece pela via eleitoral.
“O caminho do autoritarismo tem método. O golpe antigamente era feito com tanques nas ruas, hoje essa transição de uma sociedade democrática para uma sociedade mais autoritária acontece pela via eleitoral”
Ou seja, nós colocamos essas pessoas no poder.
Sim, há uma eleição. Mas a partir dela, você começa a ver uma série de mudanças, seja subvertendo a questão das instituições, trabalhando para minar ou subjugar os poderes do Estado, seja nesse ataque sistemático a todos os grupos que fazem parte do estado cívico, seja também – e isso, no caso do Brasil, é muito forte – na política de armas que privilegia a base mais leal do grupo que está no poder, a politização de policiais, a força de segurança, militares etc. num nível que começa, de fato, a nos fazer questionar. Porque seja na questão institucional, seja na da sociedade civil, do espaço cívico, seja na das forças de segurança, há muitos indícios de que este projeto de governo não é democrático. É um projeto de minar aos poucos a sociedade, as instituições e controlá-las na força, num processo que, sim, pode levar a um governo autoritário no Brasil. Não tenho dúvidas de que se a gente não colocar um freio nisso, será tarde demais. A gente tem hoje uma constituição democrática que saiu de um período de muita discussão, teve uma constituinte. E quando a gente começa a mudar essa constituição porque o Congresso está subjugado e surge ali uma aliança com um grupo fisiológico… Daqui a pouco surgirão novas leis – e elas não vão espelhar o estado democrático de direito. Aí chegamos ao que acontece na Hungria hoje, à “democracia iliberal”. A diferença do passado para hoje é que, agora, a democracia está sendo atacada a partir de governos eleitos democraticamente. Mas também temos que nos perguntar: Sim, ele foi eleito no voto, mas a campanha foi limpa? O uso das redes sociais foi limpo? O que aconteceu? Essas investigações precisam avançar, mas nós sabemos que há um enorme esforço empregado para que nenhuma investigação, em nenhuma instância, avance.
E, para além desses ataques diretos, como os que, só para citar dois exemplos, você sofreu e, mais recentemente, a Carol Solberg, quais os sintomas mais subjetivos da censura?
Sempre que a gente vai conversar com pessoas que estão sendo alvo, a primeira coisa que elas falam é da autocensura. Se for um embate digital, é obviamente se calar, quer dizer, essa pessoa não vai mais participar da conversa. A agressividade tem o objetivo de eliminar essas interlocuções, desqualificar, desumanizar, atacar especialistas – eles querem minar a reputação daquela pessoa, querem calá-la, mas também querem mandar um recado para todo mundo que está ao redor. No caso das pessoas que interagem com o espaço cívico – servidores públicos, diplomatas, pessoas empregadas em ministérios –, que antes tinham como rotina o relacionamento, trocas, reuniões com a sociedade civil, se veem de repente censuradas. Essa censura aparece, então, como um monitoramento da opinião e a penalização tanto para quem é alvo quanto para quem se relaciona com o alvo. Vou te dar um exemplo que aconteceu comigo: fui entregar um documento para um dos generais que estavam no governo. Saiu uma foto dessa reunião, que era pública, estava na agenda, ninguém tinha nada a esconder. E esse general foi imensamente atacado. Então, dessa forma, eles também isolam os alvos, já que qualquer pessoa que se relaciona com você de alguma maneira é desqualificada publicamente. Os relatos são horríveis, pessoas que têm o propósito de estar no serviço público estão com medo, se sentem intimidadas.
E também é importante falar dos casos que não estão diretamente ligados ao governo, porque está muito claro que são dois pesos e duas medidas, e todo mundo que bota a cabeça pra fora sofre retaliação. Há jornalistas sendo intimados pela Polícia Federal a depor por manifestação, porque publicaram algo que o presidente ou um ministro não gostaram, então a liberdade de expressão está sob ataque. Existem aí uma série de estratégias que passam muito longe de ser normais no ambiente democrático. Só não vê quem não quer, porque elas são todas factuais, são publicizadas, e quando a gente reúne essas informações, fica tudo muito claro. A gente está lançando uma pesquisa pelo Igarapé sobre esse tema, e o meu livro também traz vários desses relatos. O livro é um projeto muito pessoal, resolvi falar porque acho que não é o momento de se calar.
Importante entendermos que o fechamento do espaço cívico tem método. https://t.co/5ZZfccrI7T
— Ilona Szabó 🇧🇷 (@IlonaSzaboC) October 20, 2020
Existe caminho para o diálogo?
Para mim, o diálogo não só é possível como está acontecendo. Não estou falando entre os extremos, ali não está, mas o extremo não é a maioria. É muito importante a gente entender que, por mais que hoje a popularidade do presidente esteja alta, esse número é amplamente influenciado pela questão do auxílio emergencial. Mas se você for avaliar a parcela de pessoas que concorda e apoia o tipo de prática e modus operandi do governo é uma quantidade bem inferior do que o percentual de aprovação. Então os defensores do governos são minoria, e uma minoria mesmo. Quando as pessoas começaram a entender a ameaça real à democracia, em meados de 2019, começou a acontecer, aos poucos, o desembarque – grupos que apoiaram a eleição, depois uma parte do empresariado e do mercado financeiro. Claro, há ainda uma boa parcela que ainda continua ali, rezando a cartilha do Paulo Guedes. Mas aí outro grupo sai pela questão ambiental ou por olhar o risco – ‘com essa instabilidade política o governo não vai conseguir entregar o que tá prometendo.’ E, desde o início, o maior eleitorado não era fiel, era muitas vezes anti-PT, pró-Lava Jato. Isso porque tivemos um resultado muito apertado no segundo turno, e 30% da população não votou. Então existe, sim, um grande potencial de construção de pontes e alianças mais amplas na sociedade. E isso precisa acontecer. Eu diria que isso está acontecendo.
Na própria sociedade civil?
Vejo isso acontecendo mais na sociedade do que na política partidária. O ideal seria ter esses dois movimentos, ter uma oposição também capaz de construir pontes entre diferentes partidos, e até campos ideológicos, contra essa ameaça à democracia. E, ainda, que esses dois mundos se encontrassem em algum momento para determinar para onde é que a gente vai. Há uma preocupação e uma possibilidade de diálogo real acontecendo entre pessoas que inclusive votaram de forma diferente, que entendem que podem continuar não concordando em muita coisa, mas entendem essa importância. Mas essa discussão precisa ser espelhada na oposição política organizada, formal. Porque o risco é não termos uma posição política que se articule. Então é fundamental organizar um diálogo amplo de alianças na sociedade que consiga refletir no processo político para que a gente tenha chance de voltar a ter um país com dificuldades, desafios, porém de volta à marcha democrática.